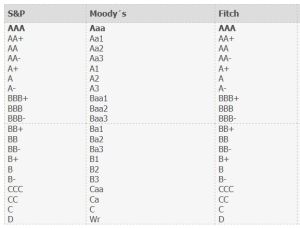Os diferentes conceitos de dívida pública utilizados no Brasil
A dívida líquida do setor público consolidado (DLSP) é o conceito mais AMPLO de dívida, pois inclui os governos federal, estaduais e municipais, o Banco Central, a Previdência Social e as empresas estatais, bem como suas dívidas em moeda estrangeira (dívida externa). Derivado disso temos a dívida pública interna líquida que é igual a DLSP menos a dívida externa, convertida em reais.
Enxugando mais o conceito temos a dívida pública mobiliária federal interna (DPMFi) que é a dívida do governo federal (emitida pelo Tesouro Nacional e Banco Central) em títulos públicos - não inclui, portanto, os déficits das estatais nem os títulos emitidos pelos estados e municípios. É interna exatamente por excluir também do seu cálculo a dívida externa. É um conceito muito utilizado por tratar apenas dos títulos emitidos pelo governo federal. É muito comum denominar a DPMFi simplesmente de dívida pública federal interna.
Se a somarmos essa DPMFi com a dívida externa temos toda a dívida em títulos do governo federal, aqui dentro e lá fora, denominada no jargão do mercado de dívida pública federal, como vemos no artigo publicado na Folha Online: "Dívida pública federal cresce 7,16% e fica em R$1,5 tri em 2009". Assim, essa dívida de R$1,5 tri é a dívida pública (federal) interna (R$1,4 trilhão) mais a dívida externa (R$98 bilhões).
.
Resumo:
| Dívida líquida do setor público consolidado (DLSP) = conceito mais amplo e inclui a dívida do governo federal, estados, municípios, estatais etc. + suas dívidas externas |
| Dívida pública interna líquida = DLSP - dívida externa |
|
| Dívida Pública Mobiliária Federal Interna (DPMFi) ou dívida pública federal interna = conceito menos abrangente por tratar apenas da dívida do governo federal em títulos lançados aqui dentro |
| Dívida pública federal (DPF) = DPMFi + dívida externa |
A figura abaixo mostra como os dados são divulgador pelo Tesouro.
.
Fonte: STN (Secretaria do Tesouro Nacional)
Centremos o foco apenas na parte da dívida composta por títulos emitidos pelo governo federal
(DPMFi), não por mera coincidência, a maior parte. Mas, até onde um governo pode se endividar? Em tese não há limites para isso - e notem que a recente crise da dívida na Europa, que se arrasta desde 2008 pegou países com volumes de dívidas diferentes. O problema, na verdade, era a capacidade de gerar caixa e pagar a dívida, mesmo que pequena, ou seja, o superávit primário. No entanto há um indicador importante:
.
relação dívida/PIB = dívida interna/PIB
.
Não há parâmetro para determinar a solvência por esse indicador, pois alguns países possuem uma dívida interna que corresponde 150% do PIB e não podem ser considerados insolventes, como o Japão, por exemplo. Países em desenvolvimento geralmente têm uma dívida/PIB inferior a isso, todavia, o seu perfil é um complicador. Assim, o relevante é observar a evolução desse percentual, e por ele concluímos que o mais importante não é a elevação na dívida, o numerador, mas o crescimento no PIB. Assim, por mais que a dívida cresça, se o PIB subir de forma mais rápida temos uma redução no percentual, na relação dívida/PIB. Para que a dívida não cresça tão rápido é importante que saibamos quais os tipos de papéis (títulos públicos) que a compõem a dívida, bem como das de juros embutidas nesses títulos.
.
Papéis que compõem a dívida interna (mobiliária) no Brasil (DPMFi)
Os papéis (títulos) lançados (vendidos aos grandes bancos) compõem a maior parte da nossa dívida pública interna, como vimos. Contudo, a atratividade desses papéis para os bancos depende de 2 características básicas:
• o prazo do vencimento - dependendo da conjuntura interna e externa só papéis de curto prazo serão aceitos pelo mercado;
• a remuneração paga, que define o tipo de papel emitido pelo governo - neste caso verificamos que os títulos possuem indexadores diferentes, que remuneram seus investidores de várias formas. Ou seja, os títulos emitidos não pagam apenas a taxa selic, como supusemos até agora. Contudo, as diversas remunerações possíveis, como veremos a seguir, implicam que nenhum banco aceitaria um papel que pagasse uma taxa de juros de, por exemplo, 10% a.a se a inflação anual fosse de 15%. O investidor teria perdido 5% dos seus recursos.
Vejamos o perfil de alguns papéis mais negociados nos leilões de títulos públicos da política monetária.
• Papéis pré-fixados: garantem ao investidor um percentual fixo de juros. Ou seja, o comprador já sabe quanto receberá no vencimento do título. Nesse sentido, ele atende à demanda daqueles que acreditam que a situação irá melhorar, isto é, que a taxa selic irá diminuir no médio ou longo prazo. São, portanto, emitidos quando as expectativas são boas com relação ao futuro. Os papéis pré-fixados mais conhecidos são as LTN (Letras do Tesouro Nacional) e pagam a taxa selic.
• Papéis pós-fixados: garantem ao comprador um rendimento que só será efetivo no resgate. Ou seja, o comprador não sabe quanto receberá no vencimento do título. Caso ele compre um papel com juros contratados de 2%, por exemplo, e no vencimento este esteja em 3%, o comprador ganhou 1% a mais. Caso ele tenha caído para 1% perdeu 1%. Nesse sentido, ele atende à demanda daqueles que acreditam que a situação irá piorar, isto é, que a taxa selic, que remunera estes papéis, irá subir. São, portanto, lançados quando as expectativas são ruins com relação ao futuro. Os papéis pós-fixados mais conhecidos são as LFT (Letras Financeiras do Tesouro) e pagam a taxa selic.
• Papéis atrelados à inflação: são papéis pós-fixados, utilizados quando os agentes querem se proteger de uma inflação crescente. Seria a forma mais atrativa de o governo captar dinheiro nesses períodos, pois um papel pagando somente os juros pode não agradar, impedindo que o governo execute a política monetária. Os papéis pós-fixados mais conhecidos são as NTN-B (Notas do Tesouro Nacional, série B, indexadas ao IPC-A).
• Papéis cambiais: pagam a variação do dólar até o vencimento, sendo, portanto, também pós-fixados. Os títulos públicos cambiais remuneram uma taxa de juros fixa, um percentual da taxa selic, denominada cupom cambial, mais uma outra parte variável, que é a variação do dólar (cotação Ptax). Logo, o investidor compra o papel sabendo que o que ganhará (ou perderá) depende da cotação do dólar na data do resgate.
Os papéis pós-fixados atrelados à variação cambial mais conhecidos são as NTN-D (Notas do Tesouro Nacional, série D) e NBC-E (Notas do Banco Central, série E). As NTN-D são de responsabilidade do tesouro nacional, sendo emitidos para cobrir o déficit orçamentário. Já as NBC-E são emitidas pelo BC com a finalidade de política monetária. Esses papéis cambiais ficaram famosos ao longo do Plano Real, pois, como vimos, na ausência de reservas cambiais, com a consequente desvalorização cambial, o governo vendeu algo que não era dólar mas que valia dólar, os títulos cambiais. Tratamos disso na
lição nº18 no tópico 'vendendo a alma ao capeta'.
Como o assunto é relevante e trouxe consequências desastrosas no fim do governo FHC, aprofundemo-lo um pouco mais. Por que o governo de países com câmbio instável se arriscaria a pagar a desvalorização cambial para os compradores dos seus papéis? Qual o interesse de um banco comprar títulos indexados ao dólar se suas despesas são todas em reais? Em suma, por que parte da dívida interna está atrelada ao dólar? Vejamos.
.
A função dos títulos cambiais
O lançamento dos papéis cambiais objetiva acalmar o mercado de câmbio, ou a cotação do dólar, evitando, portanto, sua volatilidade, como já vimos na lição 18. Ao emiti-los, atua tanto sobre a curva de oferta (vendedores de dólar) quanto sobre a curva de demanda (compradores de dólar). Vejamos esses dois lados:
• Ofertantes (vendedores) de dólar – a finalidade do governo aqui é basicamente atrair investidores estrangeiros para o país, ou seja, aqueles que trazem dólares, vendem aos banco e utilizam os reais para emprestar ao governo (comprar títulos). Mas por que os papéis pré ou pós-fixados não atrairiam? Pelo simples fato de que o ganho com os juros dos títulos do governo poderia ser perdido quando estes investidores quisessem comprar dólares para sair do país. Assim, o câmbio pode corroer os ganhos com os títulos, o que tende a inibir a entrada de novos investidores.
Em função disso, o governo lança um título cambial, que paga ao investidor, além de um percentual fixo de juros, toda a variação do dólar. Isso é, toda a perda possível que o investidor teria ao converter novamente os reais ganhos para o dólar seria paga pelo governo. Essa medida tende a elevar os fluxos de investidores estrangeiros para o país, aumentando a oferta da moeda americana no mercado e diminuindo, ou aliviando, a pressão sobre a paridade cambial. É, todavia, uma medida paliativa, de curto prazo, pois estes capitais tendem a se retirar a qualquer momento.
• Compradores de dólar – atuando do outro lado, os mesmos papéis acalmam os compradores. O governo pode jogar (vender) dólares das reservas cambiais no mercado de câmbio o que tende a aliviar a pressão de compra da moeda americana. Contudo, em alguns momentos, em face da pouca quantidade disponível na reservas, o governo opta por lançar papéis que valem dólar. Assim, ele os vende aos compradores que estão pressionando a cotação, minimizando a desvalorização cambial e acalmando o mercado.
Em suma, não é à toa que a dívida do governo junto ao mercado é chamada de dívida mobiliária do governo federal. Ela é móvel, no sentido de que sua composição é alterada (papéis pós, pré-fixados, cambiais etc) em função das necessidades de financiamento do governo e da conjuntura interna e externa.
O lado mais nefasto da dívida é o fato de o governo não poder pagá-la. Por incrível que pareça a dívida não pode ser quitada, pois seria lançado tanto dinheiro no sistema bancário que a inflação subiria em níveis incontroláveis, em função da expansão monetária e do multiplicador bancário. Mas como é mensurada essa dívida?
.
O cálculo da dívida interna
Como ela vence em prazos distintos e com base em diversos indexadores (juros, dólar, inflação etc.), significa dizer que se quisermos saber seu valor total, hoje, temos que considerar a taxa de juros e câmbio atuais. Isso serve apenas para termos uma noção do total da dívida, mesmo porque no dia/mês seguinte seu montante será diferente dependendo dessas duas variáveis. Podemos assim afirmar que uma queda nos juros e na cotação do dólar reduziria o total desta dívida, o seu saldo devedor - excluindo, obviamente, a parte que está pré-fixada na selic.
Suponhamos que a dívida mobiliária interna esteja em $100,00 com vencimento em 1 ano, e que seja na maior parte pós-fixada, por exemplo. Se a taxa de juros (selic) se eleva de 10% para 15% hoje, a dívida seria de $115,00. Contudo, se no fim do ano ela estiver em 5%, a dívida teria um saldo devedor total de $105,00, pois será paga pela taxa de juros no vencimento.
Indo além, e considerando aquele valor de 1,4 trilhão de reais da dívida interna em títulos do governo federal podemos nos perguntar: O que o governo fez com tanto dinheiro que tomou emprestado? Está guardado no cofre? Foi gasto? Na verdade esse dinheiro não existe, nunca existiu. O que ocorreu é que ele pegou muito pouco, mas ao pagar juros muito elevados, ao longo do Plano Real principalmente, esse pouco acabou crescendo de forma relativamente descontrolada. É como pegar R$100 no cartão de crédito e não pagar a fatura, imaginem o valor disso no fim de 10 anos. E se perguntarem, no final desse período, por que peguei 50 mil emprestados terei que explicar que na verdade foram apenas R$100.
.
Os títulos públicos e o tesouro direto
As pessoas físicas não precisam, necessariamente, entrar em fundos DI ou Renda fixa para emprestar dinheiro ao governo. Desde 2002 isso pode ser feito diretamente a partir do site do Tesouro Direto, desde que eu saiba efetivamente que tipo de título comprar. Veja a noticia divulgada pelo tesouro direto em setembro de 2010: "No mês, destaca-se a elevada demanda por títulos indexados ao IPCA (NTN-B e NTN-B Principal), que são corrigidos pela inflação. A participação nas vendas atingiu 47,34%. Os títulos prefixados (LTN e NTN-F), que possuem rentabilidade definida no momento da compra, ficaram em segundo lugar entre os mais vendidos, com participação de 41,74% do total das vendas. Os títulos indexados à taxa Selic (LFT) apresentaram participação de 10,92% nas vendas no mês. As vendas de títulos com prazo entre 1 e 5 anos representaram 74,56% do total e os títulos com prazo acima de 5 anos corresponderam a 19,69% do total, reafirmando o papel do Tesouro Direto como opção de poupança de médio e longo prazo".
.
Resumo e características atuais da DPMFi (jan 2016):
- toda em reais, podendo estar atrelada ao dólar. Porém, paga em reais.
- toda do governo federal (DPMFi)
- juro da dívida: em uma parte o governo paga a taxa selic (
títulos pré fixados ou
pós fixados); em outra, a inflação; uma menor parte hoje, felizmente, a variação do dólar (
títulos ou papéis cambiais). Perfil atual da dívida, ou seja, dos títulos vendidos pelo governo:
STN (Secretaria do Tesouro Nacional
* No final do
Plano Real (2002) a dívida atrelada ao dólar chegou a representar 30% do total.
- garantia: títulos públicos de vários tipos, como vimos no tópico anterior
- vencimento: hoje em torno de 4 anos, mas já chegou a ser rolada, renegociada, a cada 40 dias, aproximadamente, durante o Plano Real.
- valor atual da dívida mobiliária (DPMFi): 2,607 trilhões
- dívida pública federal (DPF) = 2,607 tri (interna) + 142 bi (externa) = 2.750 trilhões.
- evolução: partiu de, aproximadamente, 60 ou 70 bilhões de reais em 1994.
- relação dívida/PIB: hoje em aproximadamente 35%, tendo chegado a 50% no Plano Real.
- participação dos estrangeiros (não residentes): aproximadamente 19% da dívida
 Fonte:
Fonte: STN (Secretaria do Tesouro Nacional
.